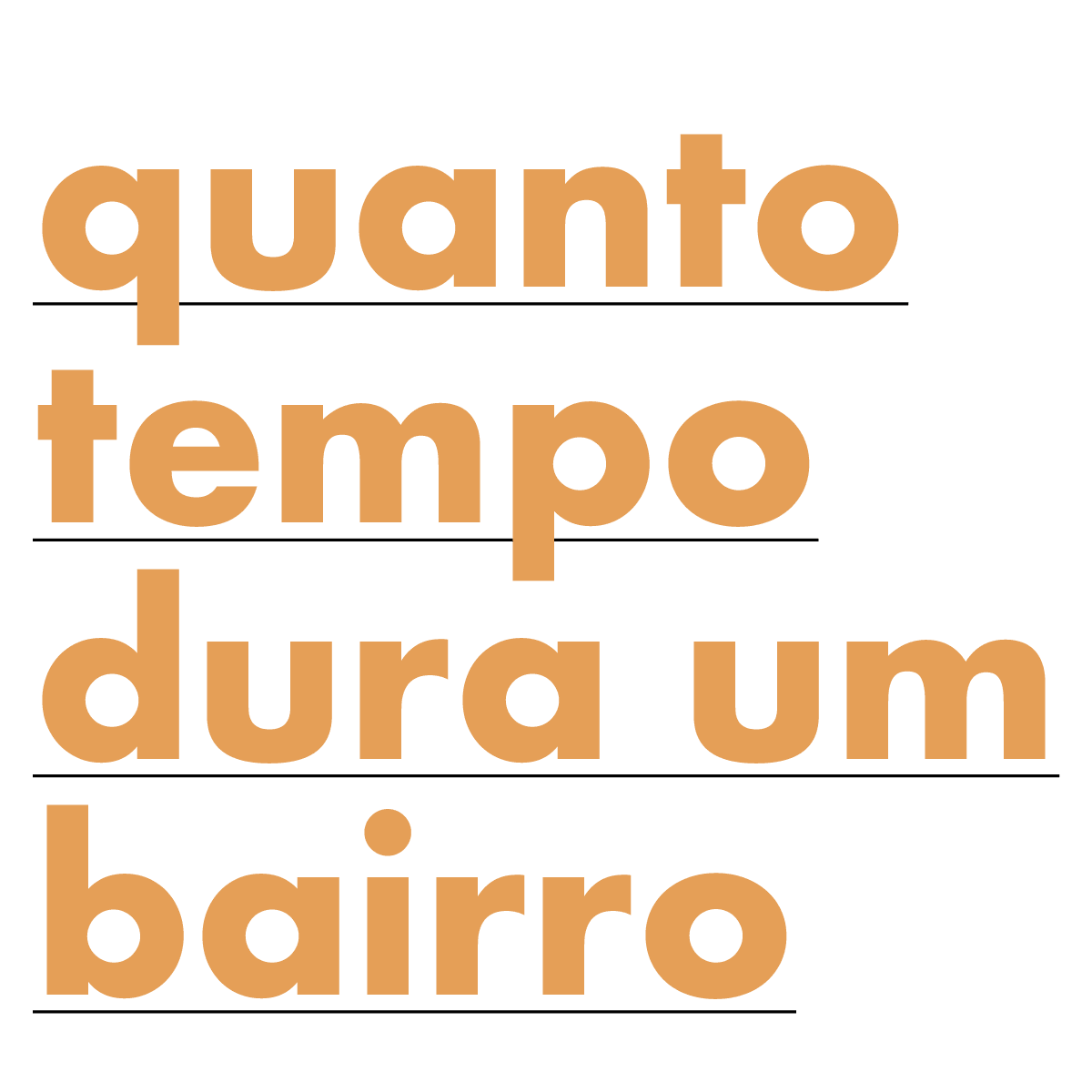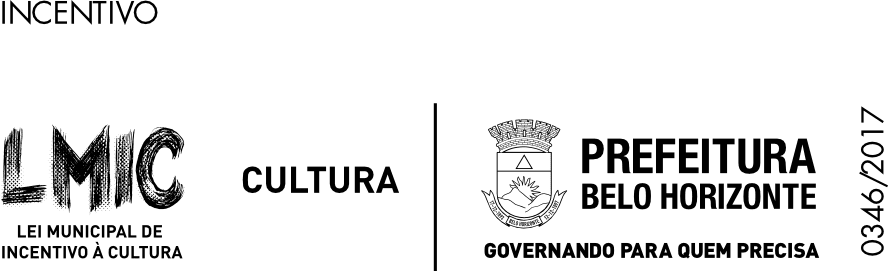# Batalhão
# Colégio Sagrado Coração De Jesus
# Condomínio Do Edifício Cinco Iapi
# Faculdade Arquitetura Ufmg
# Ficus (mercado Da Lagoinha) – R. Formiga, 140
# Igreja Nossa Senhora Das Dores
# Mercado Da Lagoinha
# Mercado Distrital
# Praça 15 De Junho
# Praça Cel José Persilva
# Praça Da Liberdade
# Praça Do Abc
# Praça Duque De Caxias
# Praça Ernesto Tassini
# Praça Joaquim Ferreira Da Luz
# Praça José Mendes Junior
# Praça Milton Campos
# Praça Tiradentes
# Santuário
Avenida Afonso Pena
Avenida Bernardo Monteiro
Avenida Brasil
Avenida Cristóvão Colombo
Avenida Getúlio Vargas
Avenida Gonçalves Dias
Rua Adalberto Ferreira
Rua Adamina
Rua Aimorés
Rua Alagoas
Rua Além Paraíba
Rua Almandina
Rua Alvinopoles
Rua Amianto
Rua Angelo Rabelo
Rua Angico
Rua Anhanguera
Rua Azurita
Rua Bauxita
Rua Bernardo Guimarães
Rua Bocaiuva
Rua Bom Despacho
Rua Bueno Brandão
Rua Buenopolis
Rua Capitão Bragança
Rua Capitao Procopio
Rua Caxambú
Rua Ceará
Rua Cláudio Manoel
Rua Comendador Nohme Salomão
Rua Conselheiro Barbosa
Rua Conselheiro Rocha
Rua Cristal
Rua Da Bahia
Rua Diamantina
Rua Divinopoles
Rua Dores Do Indaiá
Rua Dos Inconfidentes
Rua Epidoto
Rua Estrela Do Sul
Rua Eurita
Rua Fernandes Tourinho
Rua Formiga
Rua Formosa
Rua Francisco Soucassaux
Rua Gabro
Rua Genaro Masci
Rua Grafito
Rua Hermilio Alves
Rua Itabira
Rua Itacolomito
Rua Itapecerica
Rua Jaspe
Rua Jequeri
Rua Kimberlita
Rua Manoel Macedo
Rua Marmore
Rua Norita
Rua Oligisto
Rua Paraíba
Rua Paraisópolis
Rua Pedro Lessa
Rua Pernambuco
Rua Pirite
Rua Pirolozito
Rua Pouso Alegre
Rua Prof Raimundo Nonato
Rua Professor Morais
Rua Quartzo
Rua Rio Grande Do Norte
Rua Rio Novo
Rua Santa Rita Durão
Rua São Gotardo
Rua Sebastião De Melo
Rua Sergipe
Rua Serro
Rua Silvanópolis
Rua Teixeira Soares
Rua Tenente Durval
Rua Tente Freitas
Rua Tomé De Souza
Rua Turvo
salinas